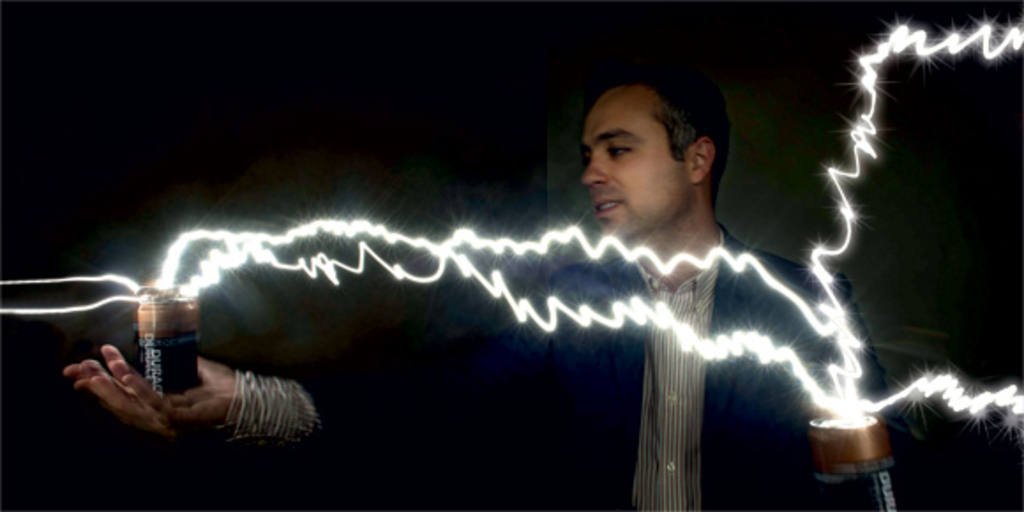17/06/2016 - 20:00
Quem entra na nova sede da Duracell no Brasil percebe que há muito do estilo de gestão do investidor bilionário Warren Buffett. Ainda mais após os últimos negócios realizados com o também bilionário Jorge Paulo Lemann, dono da AB InBev, conhecido pela austeridade nos gastos. A subsidiária brasileira da empresa de pilhas, que foi vendida por US$ 4,7 bilhões pela P&G para a Berkshire Hathaway, de Buffett, em novembro de 2014, alugou duas salas no nono andar de um prédio no bairro do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo. No mesmo espaço, outras empresas trabalham simultaneamente com a Duracell, que tem faturamento estimado em R$ 250 milhões no País. “Foi um lugar que alinhou um preço menor com uma estrutura já montada”, diz Rafael Gisse, gerente-geral da companhia. “Não queríamos perder muito tempo ou dinheiro com a mudança.”
A troca de escritório se fez necessária porque, em março deste ano, a negociação foi concretizada e a transição dos profissionais, concluída. Agora, a Duracell, comandada por Gisse, que passou dez anos trabalhando na P&G, está aprendendo a ser mais independente, o que não está sendo ruim, segundo o executivo. Ao contrário. “Perdemos a estrutura administrativa que a P&G nos fornecia e a economia de escala, mas agora estamos melhorando nossas estratégias”, afirma. “E o principal: estamos ficando mais próximos dos clientes.”
De fato, a Duracell precisa se aproximar dos consumidores. Apesar de possuir 47% do mercado brasileiro de pilhas alcalinas, mais caras e mais potentes que as feitas de zinco, segundo dados da empresa de pesquisas Nielsen, a Duracell está apenas em 20% dos pontos de venda no País. “As pilhas, agora, não fazem parte da lista de supermercado do consumidor”, afirma Fábio Mariano, professor de ciências do consumo da ESPM-SP. “Ele apenas lembra de comprar quando precisa e sempre quer ir ao lugar mais próximo.”
Por conta disso, os profissionais da Duracell têm se debruçado num plano logístico de estar dentro das padarias, farmácias e lojas de bairro, geralmente administradas por moradores locais. A empresa também negocia com redes de supermercados e hipermercados para melhorar a exposição da marca, especialmente em locais próximos aos caixas. “Como a pilha não é um produto final, na verdade, ela faz outro funcionar, precisamos sempre aumentar essa interação com o cliente”, diz Gisse.
Alguns fatores, no entanto, devem dificultar a vida da nova empresa. De acordo com dados da Nielsen, pela primeira vez houve uma queda no volume de vendas do segmento no Brasil. No ano passado, foram vendidas 5,3% menos pilhas do que em 2014. Em valor, contudo, ocorreu um aumento de 4,8%, para R$ 785 milhões. Segundo analistas, a crise econômica pela qual passa o Brasil, além do aumento de aparelhos movidos a baterias recarregáveis, explicam a redução do volume. Como alento para a Duracell, as pilhas alcalinas sofreram uma perda menor em quantidade, recuando 1,8%. De acordo com Marino, da ESPM, as pilhas ainda são importantes no dia a dia das pessoas, mas um aumento do consumo do setor depende mais das indústrias de eletrônicos do que do próprio consumidor. “Se as indústrias começarem a criar cada vez mais produtos recarregáveis, como controles de televisão, as pilhas serão menos necessárias”, diz o analista. “E isso pode representar um grande baque para empresas como a Duracell.”
Apesar das inovações tecnológicas, Gisse acha que ainda há muito espaço para as pilhas crescerem. “Temos pesquisas que mostram que o número de produtos movidos a pilha nos Estados Unidos é de 20 por lar”, diz ele. “Aqui no Brasil, a média é de apenas cinco.” Além disso, a empresa americana já começou a criar novos produtos para reduzir a dependência de seu mercado tradicional. No ano passado, por exemplo, lançou uma capa com bateria recarregável para usar com o iPhone, da Apple. Outros tipos, segundo Gisse, devem ser lançados nos próximos anos. “Acreditamos no nosso segmento, mas já estamos nos mexendo para o futuro.”